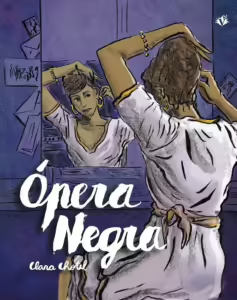A quadrinista canadense Julie Doucet evita computador e celular, possíveis gatilhos para seus ataques epilépticos. Ao topar ser entrevistada por mim, tendo em vista a edição brasileira de Meu Diário de Nova York (Veneta), ela pediu que as perguntas fossem enviadas aos assessores da editora canadense Drawn & Quarterly. O meu email foi impresso e entregue a ela, para ser respondido à mão. As respostas foram posteriormente escaneadas e enviadas de volta para mim.
Doucet vive praticamente offline, distante da comoção virtual recente com a descoberta de seu nome por novas gerações.
No último mês de janeiro ela foi premiada com o Grand Prix da 49ª edição do Festival de Angoulême, mais tradicional festival de histórias em quadrinhos do Ocidente. A honraria celebra anualmente o conjunto da obra e as contribuições de um artista para a linguagem dos quadrinhos. Ao anunciar a vitória da autora canadense, os organizadores do festival exaltaram sua arte “sem concessões, radical e subversiva”. Agora, com Meu Diário de Nova York, traduzido por Cris Siqueira, ela ganha sua primeira edição na América da Sul.
As 144 páginas em preto e branco do álbum retratam as vivências de Doucet, durante o período de pouco mais de um ano que ela viveu em Nova York, entre 1991 e 1992. O livro reúne histórias originalmente impressas entre 1995 e 1998 na revista autoral e independente Dirty Plotte. A obra começa um pouco antes da mudança da artista para os Estados Unidos, em 1983, com ela ainda em Montreal, aos 17 anos, em seu primeiro ano na universidade.
O álbum abre com um relato de Doucet sobre sua primeira experiência sexual, depois parte para uma sequência sobre suas frustrações universitárias e amorosas no início da vida adulta. Então ocorre um salto temporal mostrando a ida para Nova York, quando ela já era um nome em ascensão na cena underground de quadrinhos da América do Norte. Grande parte do livro é centrada na vida de sexo e drogas da artista enquanto ela conciliava sua rotina profissional com seus ataques epilépticos e as demandas de um namoro tóxico.
“Para dizer a verdade, não mudaram muitas coisas no meu estilo de vida. Só que agora bebidas alcoólicas me dão enxaquecas”, me diz Doucet sobre os contrastes entre sua rotina frenética em Nova York no início dos anos 1990 e a vida que leva atualmente em Montreal, onde mora.
Sucesso de crítica
Meu Diário de Nova York mostra um pouco da formação de Doucet. Nascida em Montreal, ela estudou em uma escola católica frequentada apenas por meninas. No curso de Belas Artes ela se vê em meio a “todos os rejeitados, todas as almas perdidas e sem esperança da faculdade”, como escreve ela no livro. O ambiente underground cercado por homens e as reflexões autodepreciativas e bem-humoradas seguiram com ela a partir daí, sempre retratados nos zines e nas publicações independentes que fizeram sua fama.
“Oh la la, os anos passam! Isso me deixa muito feliz, claro…”, responde Doucet quando pergunto sobre a atenção recente à sua obra, a edição reunindo seus trabalhos sobre Nova York e sua primeira publicação em português. “Foi muito inesperado, uma bela surpresa. Trata-se da minha primeira edição brasileira, e também na América do Sul, isso não é pouca coisa!”
Hoje aos 56 anos, Doucet vem retomando aos poucos seus trabalhos com quadrinhos. Ela passou os últimos anos mais focada em trabalhos de poesia, colagens e artes plásticas. No fim do ano passado ela publicou Time Zone (inédito em português), HQ também autobiográfica sobre a ida dela para a França no fim dos anos 1980 para encontrar pessoalmente o namorado soldado que só conhecia por cartas.
Ela assume o contraste entre a recepção atual de seu trabalho e aquela entre os anos 1980 e início dos 2000: “Nunca fui uma autora de grandes sucessos. O meu sucesso foi de crítica, nunca comercial. O que quero dizer é que nunca chamei atenção da imprensa, que talvez não estivesse tão interessada em quadrinhos na época. Quadrinhos são mais bem aceitos como meio artístico hoje, com certeza.”
Aluguéis crescentes
Meu Diário de Nova York apresenta os principais elementos que fizeram a fama de Doucet. São histórias extremamente pessoais, relatos íntimos, às vezes escatológicos, com personagens com feições caricatas em contraste com cenários um pouco mais realistas, além do já citado preto e branco. Preto e branco, aliás, que surgiu como uma imposição do alto custo de imprimir colorido, mas acabou caracterizando o trabalho.
“Nós só tínhamos a opção de trabalhar em preto e branco”, diz ela. “Mas com a prática, posso dizer que toda a alma do meu trabalho está no preto e branco, sou irresistivelmente atraída por esse contraste da ausência de cores. Eu gosto de sua franqueza, sua dureza… E dos desafios estéticos decorrentes dele”.
Sobre a trama, entre uma e outra crise epiléptica e briga com o namorado, ela vai conseguindo trabalhos em publicações importantes na época, como Village Voice e New York Press. Em uma página ela retrata uma festinha com a presença de lendas como Art Spiegelman (autor de Maus) e Françoise Mouly (editora de arte da New Yorker), na época editores da lendária revista Raw, e é celebrada por contemporâneos como Charles Burns e Glenn Head.

“Eu me sentia meio caída de paraquedas no meio desses artistas famosos de Nova York, chegava a ser intimidante”, conta Doucet sobre suas breves interações com colegas de profissão mais badalados durante o período retratado no livro. “Não fiquei lá tempo suficiente e morava muito longe, no Uptown [região de Nova York que vai do Harlem ao sul do Central Park], e não havia tantas oportunidades de encontrá-los (e o meu inglês naquele primeiro ano nos Estados Unidos não era dos melhores)”.
O álbum explicita esse isolamento de Doucet durante o período em Nova York. Ela diz só ter se sentido parte de um grupo quando se mudou para Seattle – outro pólo de quadrinhos dos Estados Unidos e na época residência de quadrinistas como Peter Bagge e Jim Woodring, amigos da autora. Também fica explícita a ausência de qualquer memória romântica da autora em sua época em Nova York – e ela crê que a cidade só piorou desde então.
“A cidade mudou muito… Mas o mesmo pode ser dito de tantas outras grandes cidades atualmente. Gentrificação, aluguéis crescentes, pessoas pobres e oprimidas cada vez mais longe dos centros, o mesmo valendo para os artistas… Deste ponto de vista a vida com certeza parecia mais fácil naquela época”, reflete ela.
O que ela guarda de melhor desse período retratado em Meu Diário de Nova York é o próprio trabalho dela: “Eu diria que naquela época eu estava no auge da minha arte, pelo menos em termos gráficos. Em termos narrativos, foi meu trabalho mais ambicioso. Olhando para trás, eu gostaria de ter investido em uma abordagem mais complexa, menos convencional, mas tudo bem”.